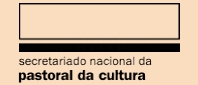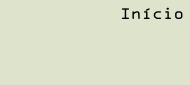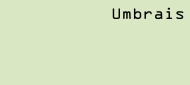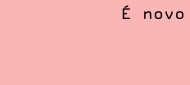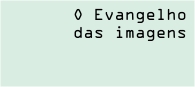Arte, cultura, contemporaneidade
Do justo desvio: a arte e os «lugares reticentes»
“Porque não haverá paz para aquele que ama.
Seu ofício é incendiar povoações, roubar
e matar
e alegrar o mundo, e aterrorizar,
e queimar os lugares reticentes deste mundo.
Deve apagar todas as luzes da terra e, no meio
da noite aparecente,
votar a vida à interna fonte dos povos.”
Herberto Helder, Lugar
Os Atomistas (1) propunham como explicação para a existência do mundo (ou mais correctamente, dos mundos) o desvio de um átomo na sua queda vertical no vazio. Clinamen (2), o desvio, seria a causa de um mundo existir. A obliquidade desviante de um átomo no seu movimento perpétuo era quanto bastava para criar o choque de partículas, a sua agregação, o confronto, a novidade. No âmbito deste texto, interessa-me menos a exactidão científica da física atomista, quanto uma proposta de reflexão que nos oferece: pensar a arte como o aprofundar do deslocamento que a própria vida já é. Um justo desvio. Ou um crime, como veremos. Uma espécie de revolta que re-dispõe o mundo.
Há nas obras (e nos artistas) que me interessam - e perdoem-me agora o carácter de testemunho - naquelas que me conduziram a refigurar o horizonte de possibilidades em que me movo, há nelas, dizia, algo de Antígona: essa “que jamais aprendeu a ceder aos golpes do destino” (3). Proibida por um édito de sepultar um dos seus dois irmãos, mortos um pelo outro, Antígona revolta-se contra a lei imposta pelo novo rei, o seu tio Creonte, e realiza sozinha o interdito – sepulta e honra o traidor Polinices, seguindo a superior lei dos deuses, consciente do castigo que sobre si recairá. Creonte, perante a desobediência, manda emparedá-la por ameaçar destruir a lei e abanar as fundações do Estado que queria construir. Ela é uma monstruosa individualidade livre que, por amor, se revolta, realizando o gesto justo – porque deixar um corpo apodrecer a céu aberto era, para os gregos, a maior desonra: para o próprio e para os deuses. Ao contrário de Édipo, seu pai, Antígona não é conduzida pelo destino, por uma força exterior inexorável e secreta, mas pela sua consciência e vontade livre. É esse o crime, o movimento desviante, que sabe necessário. E nessa liberdade experimenta também o permanente conflito – porque não haverá paz para aquele que ama - e o isolamento - a solidão da autoconsciência justa: nem sua irmã Ismena a ajudará.
A adequação do gesto de Antígona, esse desvio-da-norma que procura a justiça, é uma resposta singular a uma situação singular. Definição que, no domínio estético, podemos também identificar como característica da relação do artista com a situação e a obra que realiza: “capacidade de responder singularmente à singularidade da questão” (4). A obra nasceria, assim, da procura da relação justa com o mundo – o que quer que ele seja: uma montanha, uma emoção, um rosto, um espaço, uma ideia... Como uma dívida por pagar – onde a urgência não é imposição exterior, mas liberdade de fazer o devido. Com a diferença essencial e dificuldade acrescida de, no campo estético, não se poder indicar uma “lei dos deuses” ou aceder à “regra”.
À luz de Antígona, a obra será a resposta adequada à situação, uma afirmação pessoal mas não meramente privada ou servindo apenas o artista. A personagem de Sófocles é um arquétipo da subjectivação (5), e, no entanto, o gesto proibido que ela cumpre é demanda de justiça perante outros: nela a subjectividade encontra-se com a construção mais plena da comunidade - apesar do conflito que instaura. Também na obra de arte a resposta justa tende para a universalidade: uma singularidade capaz de ser partilhada, comunicável. E impertinente. Do mesmo modo que Antígona é acusada de impertinência -“a filha intratável de um pai intratável” (6) -, também essa deve ser a acusação dirigida à obra de arte. A obra executa no mundo o trabalho da metáfora no discurso (P.Ricoeur). Uma fractura, um desvio. A sua impertinência liberta um sentido novo, que a função meramente instrumental da comunicação ou o utilitarismo da relação habitual e interessada com o mundo deixam escondido. Assim, a experiência estética liberta do quotidiano, introduz a distância, para possibilitar uma reavaliação e retorno a ele. Uma saída que só se cumpre no regresso – se assim não for, a obra é entretenimento inofensivo, insignificante e sem poder algum sobre o mundo: uma espécie de parêntesis na vida.
Nesta leitura alegórica da tragédia de Sófocles como aproximação à obra de arte - um evidente abuso, a que me permito porque afinal também Antígona é uma criação artística – não poderia deixar de pensar isso a que a obra rende justiça. Polinices, o corpo putrefacto do irmão deixado a céu aberto fora dos muros da cidade: é esse o que a arte tem que resgatar. O corpo morto esquecido. O que seria mais fácil deixar de fora: aquilo que trai a ordem estabelecida, o que corrompe, o que o poder (seja pessoal, seja institucional) quer longe da vista, o fantasma, o perdido em nós (e que pode ser a necessária festa e celebração da alegria); isso a arte não pode esquecer. Pelo menos aquela que se queira inscrever na mesma genealogia de Antígona, filha de Édipo. A arte é também este trabalho de luto. Um ritual fúnebre que permitirá “a ressurreição da vida em nós” (M.Henry). Não abandona no descampado o propriamente humano – que pode ser o que se julga desumano - e ergue-lhe orgulhosamente, em silêncio, um memorial. Como Antígona, a arte dirige-se ao morto (7). Não o penso, porém, no sentido e na formulação de Jean Genet, como “oferenda ao inúmero povo dos mortos”, mas na potência daquilo que, subterrâneo, quer revelar-se: a obscuridade que é o fundamento sem fundo da nossa existência. A noite aparecente. O silêncio-fonte.
Antígona - tal como Prometeu, o previdente - não grita, nem tenta argumentar ou fugir quando a prendem: em silêncio recebe o seu castigo. Silêncio intencional, como intencional foi o crime. Silêncio tremendo que assusta e incomoda todos os que a olham e não escutam. Ou melhor, quando percebem que o que escutam não está a ser dito. Escutam-se. É esse silêncio denso e desafiante que também a obra de arte impõe. Mesmo que seja ruidosa ou musical. Lança-nos fogo, queima estes lugares reticentes que somos. Ela ameaça, destrói e recria um horizonte novo. Altera a nossa mundividência.
“Fare Mondi. Making Worlds” é precisamente o título da Bienal de Veneza que este mês inaugura, comissariada por Daniel Birnbaum. E fazer mundos será o grau máximo da criação – ainda que o curador fuja (e não por acaso) à utilização da palavra “criar”, onde ecoa o vocabulário mítico das cosmogonias e vestígios Românticos da genialidade do artista-deus. “Fazer” é menos problemático, mais neutro, até porque este fazer é sempre um refazer (N.Goodman). Ao longo deste texto fui aproximando-me da definição disso que a obra abre à nossa frente: um mundo, como um horizonte de possibilidades onde nos podemos mover, pensar, sentir, esperar, padecer, agir... Os mundos que as obras transportam não são apenas uma pluralidade exterior, como universos paralelos. Eles cruzam-se e confrontam o nosso. E nesse encontro-desvio pode dar-se a reconstituição e o alargamento do nosso horizonte do possível.
Com estas notas breves e incompletas não pretendi esteticizar o gesto ético-político de Antígona - tentação tão contemporânea. Pelo contrário, procurei antigonizar o gesto estético. Investigar se poderemos perceber a obra de arte, com a sua fragilidade e ambiguidade, como resultado de um combate pelo gesto justo, no seu campo próprio. Pode-se legitimamente recusar tudo isto e aceitar a domesticação e mercantilização da obra de arte, negando o seu poder refigurante do mundo, assumindo que não tem outra finalidade que não a de legitimar modos de vida, instituições e decorar o quotidiano. Mas ao escrever esta frase, volto a lembrar-me de Antígona e das justas palavras de Montaigne: “prefiro forjar a minha alma a mobilá-la” (8).
(1) Entre os mais conhecidos contam-se Leucipo de Mileto, Demócrito de Abdera e Epicuro. Sobre o seu sistema filosófico cfr G.S.Kirk e J.E.Raven, Os filósofos pré-socráticos. Lisboa: FCG, 1982, pp.415ss. Curiosa a descrição da “formação dos mundos” no meio do redemoinho onde os átomos se juntam no vazio (p.425). Uma dúvida permanece, se é necessidade ou acaso.
(2) Palavra de origem latina que traduz o termo grego que designa, no sistema de Epicuro, o desvio espontâneo que produz o encontro e aglomeração dos átomos no vazio onde caem. Sobre o desvio que se fez do desvio Atomista por pensadores do sec.XX, cfr, por exemplo, a teoria literária de Harold Bloom, The anxiety of influence. Oxford: Oxford University Press, 1973. (trad. port. A angústia da influência, Cotovia) e a análise filosófica de Alain Badiou, Theorie du sujet. Paris: Seuil. 1982, p.76ss.
(3) Sophocle, Antígone in Tragédies. Paris: Les Belles Lettres. 1964, p.94.
(4) Paul Ricoeur, A critica e a convicção. Lisboa: Ed.70; 1997.p.242. Segundo Ricoeur, a grandeza do artista está em fazer nesse momento o gesto que todo o homem deveria fazer. O artista estaria ali em nome de todos, mesmo sem o querer ou saber. A sua singularidade é a nossa, e por isso universal, exemplar e adequada: e nesta adequação, Ricoeur aproxima o artista do herói e do santo. Também eles, ainda que em âmbitos bem distintos, realizam o gesto necessário, a resposta justa à situação. Tornam-se exemplos: a comunicabilidade do seu gesto resgata-os da singularidade individual. Sobre esta relação cfr I.Kant, Crítica da Faculdade do Juízo. Lisboa: INCM. 1992, p.184.
(5) Sem confundir o sujeito no âmbito do pensamento grego com a subjectividade que nascerá da filosofia moderna, ou mesmo antes com a reflexão sobre a pessoa na filosofia cristã medieval, mas isso não cabe aqui...
(6) Sophocle, Antígone, p.94.
(7) Diz Antígona a sua irmã Ismena: “está tranquila, tu vives, mas minha vida há muito tempo acabou, para assistir os que morreram”. Sobre este tema da relação com a morte e em particular sobre o silêncio de Antígona cfr Marta Várzeas, Silêncios no Teatro de Sófocles. Lisboa: Ed. Cosmos, 2001.
(8) Montaigne, Ensaios. Lisboa: Relógio d´Água, 1998, p.210.
Paulo Pires do Vale
In L+Arte, Junho
07.06.09

Rui Chafes






Bienal de Veneza 2009
Bienal de Veneza 2011: uma nova oportunidade para o diálogo entre a Igreja e a arte contemporânea
Só a união entre a razão e a estética manifesta a profundidade da fé
Uma semana com Daniel Faria (I)
5.ª Jornada da Pastoral da Cultura: narrativa em imagens | IMAGENS |
Do justo desvio: a arte e os «lugares reticentes»
Amo-te, ó lei mais suave / na qual amadurecemos, quando com ela em luta estávamos
Adriano Moreira recebe «Prémio de Cultura Árvore da Vida - Padre Manuel Antunes» | IMAGENS |
Semana de Teologia: Quem é o nosso Deus?
Dicionário das Escrituras: abelha, Abiam/Abias, Abiatar
Nunca nos apresentámos com palavras de adulação nem com pretextos de ambição
O Evangelho das imagens | IMAGENS |
Portugal: passado, presente e futuro
Breves:
Ouvir o Evangelho a qualquer hora, em qualquer lugar
Fotografia: São João - Lugares altos, olhares
«Site» da Pastoral da Cultura: a palavra e a imagem enquanto limiares