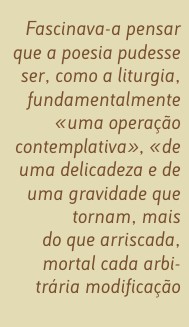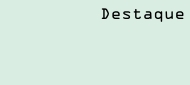

A beleza que nos salva
Vi vários retratos seus, nas edições da Adelphi, que tem publicado as suas obras, mas também em pequenos volumes saídos noutras editoras (por exemplo, a fotografia que ela terá mandado a William Carlos Williams, agradecendo o envio de um retrato dele, na Scheiwiller, que depois também é reproduzido na capa do livrinho, com traduções de Hofmannsthal, do catálogo da Ripostes) ou, muito mais raramente, em páginas literárias dos jornais.
Uma vez, mostrei esses retratos a um amigo que me disse que a achava muito parecida com Sophia de Mello Breyner, mas com uma Sophia que nunca tivesse ido à Grécia. Para dizer a verdade, já nem sei se todas estas imagens são assim tão importantes. Lembro-me de ter lido, sobre este assunto, um comentário de Pietro Citati que dizia: «a verdadeira Cristina Campo era uma outra».
Entre os que conviveram com Cristina e os seus estudiosos criou-se uma estranha conjura: unanimemente, consideram que o verdadeiro retrato de Cristina é, afinal, o de uma aristocrata, com alguns séculos, que surge num particular do Tríptico Portinari, de Hugo van der Goes, da colecção dos ‘Uffizi’, em Florença. A própria Cristina Campo escreveu sobre essa figura e penso até que, mais que as semelhanças físicas, a semelhança que as suas palavras desenham, serviu para implantar o mito, pois é tão fácil reconhecê-la «naquela dama adolescente, meia monja, meia fada, que adora o seu Deus com o mais florentino dos sorrisos».
Chamava-se Vittoria Guerrini. Mas, depois das investigações de Monica Farnetti por revistas litúrgicas, marginais cadernos literários, prefácios, notas editoriais, cartas e traduções, ficámos a saber que também se chamou Puccio Quaratasi, Bernardo Trevisano (uma evocação do alquimista do ‘Quattrocento’, Bernardus Trevisanus), Giusto Cabianca, Benedetto P. d’Angelo. E, claro, Cristina Campo. Cristina, de «portadora de Cristo». E Campo, uma referência aos campos de concentração («campos de dor», como ela, a dada altura, escreve).
Nasceu em Bolonha, em 1923, e está lá sepultada (a sua morte ocorreu em 1977). Mas as suas cidades são outras. Florença, ali passou a juventude, teceu amizades; ali, num jardim o poeta Mano Luzi ofereceu-lhe o primeiro e tão importante livro de Simone Weil. Roma, para onde se transfere, com grande sofrimento, acompanhando o pai que foi dirigir o Conservatório de Santa Cecília, e que se torna, pouco a pouco, o seu lugar da terra, amado com aquela desolada e irreversível paixão que era, talvez, a sua forma não apenas de amar, mas de viver. (Sei de cor a sua geografia de Roma: o Vicolo dei Divino Amore, «o mais belo caminho de Roma»; a ilha Tiberina, com as pontes estreitas e o lajedo de mármore à beira rio; o Lungotevere, onde ia encontrar Maria Zambrano; o seu tão querido Aventino, o n.º 3 onde viveu, mesmo ao lado da Abadia de Santo Anselmo, que foi para ela tudo: ermitério, salão, campo de batalha, exílio; a bela e silenciosa Trapa, já nos arredores...).
Mas as suas cidades são outras. «Onde quer que passes é Samarcanda», assinala ela num poema. E Cristina habita, profundamente, todas essas cidades distantes: Samarcanda, Bassorá, Colono, Bagdad, porque os contos, que a acompanharam toda a vida, foram «uma agulha de ouro, suspensa de um norte oscilante, imponderável, sempre inclinado diversamente, como o mastro de um navio num mar alterado». E a isso ligava-se a grande verdade final: em qualquer sítio da terra, onde Cristina Campo estivesse, era sempre Bizâncio. Ao menos para ela ligava-se, pois tinha o conto maravilhoso na conta de um «enigma cada dia novo, proposto e nunca resolvido, senão na hora decisiva, no gesto puro — não ditado por coisa nenhuma, mas alimentado, dia a dia, de paciência e silêncio». Nisto, como aliás no resto, só a pode compreender, avisa, «quem tenha da própria língua um sentimento litúrgico igual ao da Missa dominical, e tão familiar como o do alimento quotidiano».
Cristina Campo era de Bizâncio, quer dizer, buscava a perfeição como uma trapista, com as garras daqueles leões que são representados junto aos Padres do Deserto. «Acostava-se à linguagem como o crente ao texto sagrado», numa realeza intransigente, numa elegância recôndita, num fascínio lento e meticuloso, com aquele luxo de que só é capaz um asceta.
«Escrevi pouco e agradar-me-ia ter escrito menos», ouvimo-la dizer. A propósito da poesia (e do destino), é de renúncia, abstenção e interdição que fala. A poesia identifica-se com o exercício destas virtudes negativas: «a paciente acumulação de tempo e de segredo transtornada subitamente naquele milagre de superior energia: eis a precipitação poética». Mas, o ‘pouco’ que a ocupa, era trabalhado na sua oficina de ourives até esplender de verdade, até alcançar uma delicadeza ofuscante, o desperto silêncio das revelações. Para isso, vivia concentrada como a luz que os mineiros levam à cabeça, quando se aventuram por semelhantes profundidades, estado a que ela, evocando Simone Weil, uma das suas influências centrais, denomina ‘atenção’.
Cristina Campo queixava-se da arte contemporânea, porque nela predomina a imaginação, isto é, a «contaminação caótica de elementos e de planos», e isso se opõe à justiça, «que, de facto, não interessa nada à arte de hoje». Dante, sim, por escandaloso que isso possa soar, escolheu a atenção contra a imaginação, pois «ver almas contorcer-se no fogo, lançar sobre o orgulho um manto de chumbo, isso é uma suprema forma de atenção». Marcel Proust, sim, é um escritor da atenção, porque sabia reconstituir, «na sobreposição perfeita dos tempos e dos espaços (...), a pura beleza da figura». E à atenção, esse «olho de ouro que observa», esse «único caminho para o inexprimível», pertenciam todos aqueles que ela amava: a bíblia e T.E. Lawrence, os contos maravilhosos, Hölderlin, Santo Efrém, T.S. Eliot, velhos missais orientais, Emily Dickinson, William Carlos Williams, Simone Weil, os Padres da Igreja, Pound, Hofmannstha1 e João da Cruz...
Cristina sabia bem o que estava a reclamar com a atenção: «Pedir a alguém que nunca se distraia, que escape sem repouso aos equívocos da imaginação, à preguiça dos hábitos, à hipnose dos costumes, é pedir-lhe que viva na sua máxima forma. É pedir-lhe alguma coisa muito perto da santidade, num tempo que parece apenas perseguir, com cega fúria e glaciar sucesso, o divórcio total entre a mente humana e a faculdade da atenção que lhe pertence»”.
Ela era uma cidadã de Bizâncio. Quando se lhe perguntava o que falta à literatura actual para ser grande, dizia não encontrar outra palavra que «cerimónia». «Alta escrita sem cerimónia nunca foi possível». Mas uma cerimónia sem nada de supletivo, que odeia, com todas as suas forças, o postiço. A cerimónia tem de ser, como escrevia Cristina, «mais necessária que o próprio útil». Giorgio Manganelli defendia que esta centralidade do conceito de cerimónia empresta à literatura de Cristina, não a tarefa de dizer, mas «de desenhar uma imagem, um ícone»
Cerimónia aproximou também poesia e liturgia, Os ritos, explicou numa raríssima entrevista, são «os verdadeiros modelos, os arquétipos da poesia, que é filha da liturgia, como Dante demonstra do princípio ao fim da Commedia. Os mestres da poesia que venero já os nomeei todos, diversas vezes. Mas poder escrever, uma única vez na vida, alguma coisa que recordasse, ainda que longinquamente, a mais simples, a mais humilde das antigas, das eternas liturgias, do Ocidente e do Oriente...». Fascinava-a pensar que a poesia pudesse ser, como a liturgia, fundamentalmente «uma operação contemplativa», «de uma delicadeza e de uma gravidade que tornam, mais do que arriscada, mortal cada arbitrária modificação».
Por isso, ela viveu aterrorizada a reforma litúrgica católica que o Concílio Vaticano II estabeleceu. Temia que a Igreja estivesse a ceder perante a secularização. À distância destes anos, percebe-se como as adaptações litúrgicas que tiveram lugar (a utilização das línguas vernáculas, a aprovação de um novo ‘Ordo’ para a Missa), foram acolhidas, em alguns casos, sem grande discernimento, num evidente nivelamento do teológico pelo sociológico. Nessa época, Cristina Campo tornou-se uma ‘reaccionária’, uma provocadora. Fazia circular notas biográficas onde se apresentava, simplesmente, como alguém que se interessa por canto gregoriano e pela liturgia bizantina. Escrevia, bramia, conspirava. Organizou, quase sozinha, uma carta-manifesto, dirigida ao Papa, a pedir que nos conventos fosse mantido o ofício divino em língua latina. Esse documento é divulgado a 5 de Fevereiro de 1966 e vem assinado por Wystan Hugh Auden, Robert Bresson, Jorge Luis Borges, Giorgio De Chirico, Carl Theodor Dreyer, Julien Green, Jacques Maritain, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Evelyn Waugh, María Zambrano, entre outros. Enclausurou-se na Abadia de Santo Anselmo, mas também ali só lhe restava a cripta «onde podia ler por longas horas, na única companhia de Deus». E, quando depois, até Santo Anselmo lhe falta, passa a frequentar a Igreja do Pontifício Colégio Russicum, em Via Merulana, não muito distante da Estação Termini. «No Russicum Cristina Campo descobre as jóias do rito bizantino-eslavo. Tudo, nesta liturgia, parece feito para a conquistar: os gestos solenes, os paramentos sumptuosos, as palavras misteriosas pronunciadas numa língua antiga».
Os últimos anos da sua vida são difíceis de reconstituir. No fundo, a sua obra literária está concluída. Ela que começou pela poesia e, por longos anos, escreveu apenas os seus extraordinários ensaios, volta de novo aos poemas, já no fim. Mas se pensarmos que toda a sua poética é constituída por trinta e um poemas!
Olhando para a descrição de um dos seus dias, ninguém parecia mais dissociado do seu tempo: «Tomo o pequeno-almoço, de manhã, estudando os cânones do Concílio de Trento, ao meio-dia estou ainda a ler o Sacramentário Leoniano e à tardinha janto com o Concílio de Niceia, para depois adormentar-me sobre a ‘Pascendi’ ou sobre a vida de Santo Atanásio. Misturados com estes livros, na minha cama, estão, é verdade, Proust e Pasternak e James - mas para eles não tenho senão fugidios olhares, como através das grades de um mosteiro».
E, contudo, poucos como ela mergulharam, até ao fundo, no mistério do próprio tempo, com igual desabalo pela verdade, entregues, a cada instante, à labareda da atenção suprema. Talvez se lhe deva aplicar o que, uma vez, a própria Cristina Campo escreveu a Djuna Barnes, elogiando muito, mas mesmo muito, o vasto testemunho do seu silêncio: «sabe, você tornou-se o espírito desta terra».
Do texto original não incluímos as notas de rodapé.
Artigos relacionados:
Sob um falso nome: Cristina Campo regressa à colecção Teofanias
Cristina Campo: Introdução a «Relatos de um peregrino russo»
Apesar de tudo amo a minha época porque é a época em que falta tudo
José Tolentino Mendonça
in O Passo do Adeus, ed. Assírio & Alvim
09.12.2008
Topo | Voltar | Enviar | Imprimir
![]()