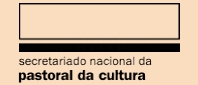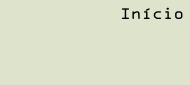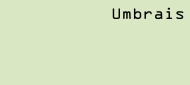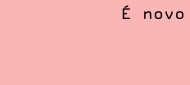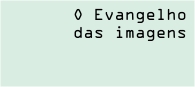Leitura
Como queremos continuar a História?
Os ensaios do livro “Primeiras vontades – Da liberdade política para tempos árduos”, de André Barata, procuram defender «escolhas humanas que deem um futuro à História, através do pensamento sobre a liberdade política de Jean-Jacques Rousseau, Isaiah Berlin, Hannah Arendt, Jacques Rancière, Jean-Paul Sartre e Slavoj Žižek», explica o autor.
E também, acrescenta, «escolhas por uma continuação da ideia de tolerância, pelo prosseguimento de uma narrativa moderna, por apressada que tenha sido, para Portugal, e pela defesa de um conceito de espaço público, todas elas escolhas que são continuidades de uma modernidade a retomar».
«Em tempos em que se atropelam declarações de últimas vontades, há que escolher como se os tempos fossem imaginativos e nos movessem vontades de tempos novos. Estas são as primeiras vontades para uma vida humana digna.»
Como queremos continuar a História?
Excerto do prefácio
1.
Vivemos tempos árduos. Depois de todos os óbitos anunciados, da literatura e seus autores, de deus até; depois de todos os fins, da arte, da política, mesmo da história, restaria, talvez, antes do pó da terra, a resignação de umas vontades últimas, a capitular sobre o humano que fomos, às vezes até com grandeza.
Mas, será mesmo o fim dos tempos o que nos aguarda?
Desde que a crise se instalou no opulento Ocidente, em várias escalas da coexistência humana, vive-se sem projeto de comunidade. Administramo-nos e somos administrados pela racionalidade da eficácia, diminuídos à condição de meios a proporcionar o fim da eficiência. Um esquema societário da subtração hegemoniza-se sob o fundamento duplo de que, na ordem dos factos, o mundo não basta para todos e de que, na ordem dos valores, não devemos dar por garantido nenhum direito adquirido quanto à existência digna no mundo.
Esta subtração é ainda a indicação precisa da ruína da condição de uma pós-modernidade que, ao engendrar o relativismo cultural, pelo menos tinha o mérito de subscrever um entendimento generoso e multiplicador da existência. Mas não, a mudança das condições que a sustentavam foi também a ocasião para um acerto de contas com os modos de vida pós-modernos. Numa rotação excessiva, esses mesmos modos de vida, com o seu ideário relativista, rapidamente passaram a responsáveis pelas dificuldades do Ocidente. Os tempos endureceram e, sem relatividade ou perspetiva, entre aqueles que teriam culpas no cartório estariam os pós-modernos. A História recente emudeceu-os.
Alem do desaparecimento dos seus proclamadores — Lyotard (1998), Derrida (2004) e Baudrillard (2007) —, a pós-modernidade viu o seu contexto económico, a saber, um capitalismo pós-industrial cada vez mais financeiro, subitamente interrompido por uma crise do subprime. A crítica moral ao comportamento dos agentes económicos, desencadeada com a descoberta do esquema de operações financeiras da Lehman Brothers, de que o alto risco que ofereciam em negócio era insustentável, atingiu em pleno o Zeitgeist dapós-modernidade. A falta de valores entre gestores remunerados a níveis inimagináveis teria a sua explicação de fundo no ambiente relativista que os pós-modernos fizeram propagar pelo Ocidente. Esses intelectuais, franceses ou de gosto cultural francês, teriam urdido uma teoria que rasurava a diferença entre o bem e o mal, e, assim, também uma ideologia que sujeitava à impotência o homem honesto, não raro também cristão, inibido de perseguir o bem e de se opor ao mal. Numa célebre homilia no conclave de 2005 que o conduziria ao papado, Ratzinger denunciava a «ditadura do relativismo». Mais tarde, George W. Bush apropriou-se desta expressão, precisamente por ocasião da viagem apostólica do papa Bento XVI aos Estados Unidos em 2008. O papa visitava o ground zero.
Retrospectivamente, não foi difícil reconhecer esta fraqueza autoimposta da ditadura do relativismo, sabotadora da moral dos homens, na impotência como testemunhámos, incrédulos, a violência do fundamentalismo em 2001. O Mayor Giuliani denunciava o relativismo cultural por detrás dos atentados. Stanley Fish, num pequeno texto, «Don’t blame relativism», ia aparando os golpes, defendendo que relativismo não é mais do que outro nome para pensar a sério, experimentar pôr-se na pele do outro, não para aprovar, mas compreender e assim poder julgar, e sem que se reneguem as convicções próprias, o que, aliás, constituiria, para o autor, um contrassenso que só o reducionismo do fervor antirrelativista explica.
Simplesmente, o «outro» que atingia as Torres Gémeas era apenas a primeira aparição do que se veria pela segunda vez exposto, em meia dúzia de anos, no colapso moral do capitalismo financeiro. Agora o inimigo já não vem de fora, não é outro, agora o inimigo somos nós mesmos, ocidentais em crise e em urgência de uma restauração. Na verdade, teríamos sido sempre nós mesmos os incapazes de estar à altura das ameaças, imersos na absoluta relatividade das coisas. E sem verdade, não sobraria réstia de moral. A contrapartida a não estarmos dispostos a morrer por coisa nenhuma era estarmos dispostos a vender a alma por qualquer coisa. De acordo com esta narrativa, o significado espiritual da crise do crédito teria estado em provar como o problema fora, desde o princípio, «nosso».
Enquanto teríamos sido pós-modernamente assim, gestores em particular e relativistas em geral, o resto do mundo perfilava-se na nova verdade universal da globalização e na irrelativizável força económica das potências emergentes. A riqueza ocidental ter-se-ia declinado em fraqueza de caráter, sobretudo por ter dispensado ser potência. Pela fraqueza e pela soberba, por ambas se pagaria caro. E assim pensaria mais Bush, superficial e contundente, do que Bento XVI, profundo e subtil. Contudo, desde então, e enquanto se arrasta a crise, sucedem-se as sentenças morais, os ajustes de contas ideológicos e, acima de tudo, duvida-se da nossa viabilidade. Neste clima, o medo governa-nos e educa-nos para a disciplina da sobrevivência.
Contudo, esta narrativa continua a não convencer.
2.
A passagem do século XX ao século XXI foi a passagem de uma premissa de crescimento económico garantido a uma premissa de subsistência económica incerta.
Simplesmente, esta não tem sido uma passagem inteiramente transparente. É assumida de forma demasiado abrupta e, no essencial, para introduzir no regime da subtração mais uma: a do tempo presente. O que fora o desígnio de outrora de uma sustentabilidade futura deu subitamente lugar a uma consciência extremada da insustentabilidade passada. Neste jogo de responsabilidades adiadas no passado e agora assacadas ao passado, com a ameaça futura a tornar-se passada sem que tivesse passado pelo nosso presente, perpetra-se um enorme salto sobre o tempo da contingência e das escolhas que seria esse presente elidido, num exercício bem sucedido de transferência de responsabilidades.
A Gestalt passou a ser outra e os sinais das coisas passaram a ser lidos por um novo princípio: o da subtração. Forma-se assim o novo Zeitgeist.
Mas um sistema de escolhas que não arranque do presente é um sistema de escolhas distorcido. A escassez apresentada como facto consumado sobrecarrega as consciências cidadãs com exigências de culpas apuradas e penalizações à medida. Quem decide politicamente faz escolhas olhando sobretudo à responsabilidade passada, dispensando-se com isso de assumir a abertura do presente e de nele assumir plenamente a responsabilidade das escolhas feitas. A distorção não podia ser mais clara: fazem-se ainda escolhas, mas como se não o fossem, como se fossem inevitabilidades determinadas por estilos de vida passados, esses sim escolhas, na verdade más escolhas, a penalizar. E, previsivelmente, elegem-se bodes expiatórios: governantes passados são diabolizados; mas também a comunidade toda, posta no patíbulo da reprovação por ter «vivido acima das possibilidades». No fundo da questão, o que se instala no regime societário da subtração é a adversidade à própria vontade de escolher.
O exercício da escolha, que os ciclos democráticos pressuporiam, é posto sob a suspeita da leviandade, sobretudo se forem dadas a escolher novas escolhas. Pelo contrário, o que deve ser esperado da democracia é que deva desdemocratizar-se enquanto irrupção da novidade, e procedimentalizar-se enquanto consagração de uma eficiência decisória. Os democratas, que muito escolhem e pouco decidem, são destronados na tecnodemocracia pelos tecnocratas, que muito decidem e pouco escolhem. Naturalmente, a eurocracia é só uma instância da tecnodemocracia.
A democracia vê deslocar-se, então, o eixo da sua preocupação dos fins e dos princípios para os meios, como se os fins e os princípios tivessem sido definitivamente escolhidos e nada os pudesse disputar a não ser a título de irracionalidade, ruído ou leviandade. A escolha e a vontade democrática vão deslizando para uma técnica da decisão com o intuito de assim conseguir conter os perigos do ímpeto democratista, da vontade popular, da consequência das suas escolhas. Contudo, mais do que dar forma à inorganicidade da vontade, está em causa, neste movimento das democracias, neutralizá-la, anestesiá-la e fazer-lhe um diagnóstico de loucura. Os democratas e a sua mania do retorno da soberania ao povo constituem-se como o foco da desordem do sistema. A sua loucura, portanto. Decide-se contra o escolher.
Se os democratas são os loucos da tecnodemocracia contemporânea, se, por isso, a escolha democrática fica sob suspeita, não surpreende que se naturalizem formas de condicionamento da democracia, que não lhe dão forma nem feição, mas lhe movem oposição. Exemplo concreto deste condicionamento democrático naturalizado está em que a sequência de uma escolha democrática possa ser os mercados financeiros, na manhã seguinte ao escrutínio eleitoral, castigarem o voto que não os beneficiou, precipitando uma queda dos índices bolsistas, e pressionando o eleitorado a avaliar menos o sentido do voto do que o ato da sua votação.
No curso da sua adaptação às condições do capitalismo industrial, a sociedade dotou-se de meios de resistência, sob a forma de direitos, que inibiam a capacidade, entre quem o pudesse fazer, ou seja, o patronato, de pressionar eleitores (por se encontrarem numa relação laboral subordinada) num sentido ou noutro de uma escolha, através da ameaça de lhe dificultar a vida profissional, de lhe diminuir os rendimentos, de os arrastar para a pobreza. Todavia, hoje em dia, os mercados permitem-se este tipo de condicionamento sobre países inteiros, à partida justificados com a desculpa de que se limitam a reagir de acordo com a racionalidade do meio. Ainda que fosse. É consubstancial à democracia o direito de fazer a escolha que venha a verificar-se errada. Em democracia, as escolhas não são técnicas, mas políticas, ou seja, relativas à maneira como queremos viver comunitariamente sob um pressuposto de abertura da História ao seu futuro. Nada se perde em se repetir Shakespeare e dizer que continua a haver «mais coisas no céu e na terra do que as que sonha a tua filosofia». Ou a tua economia, ou a tua moralidade.
Foram as dinâmicas do parlamentarismo e, sem dúvida, também as tensões que os sindicatos e movimentos libertadores souberam levar de vencida, que asseguraram a defesa da democracia contra os condicionamentos que o patronato lhe pôde mover na época do capitalismo industrial. A sacralização do direito ao voto e do direito à opinião política, esta por mais anómala que fosse, consolidou-se como resultado de uma longa contenda social de que, hoje, a concertação social e outras mediações institucionalizadas do protesto social apenas mantêm uma memória ritualizada.
Mas como será no quadro de um capitalismo financeiro, especialmente quando acirrado pela sua própria crise? Na verdade, do capitalismo predatório de recursos naturais, como terá sido o capitalismo industrial durante o século anterior, e do capitalismo improdutivo que terá sido a «financiarização» que se instalou nas últimas três décadas na economia mundial, chega-se agora a uma nova fase em que o capitalismo parece fechar-se sobre si mesmo em canibalismo do escasso.
Com efeito, a gestão da escassez tem-nos inclinado à ausência de projetos, à abstenção preventiva da vontade e ao entrincheiramento defensivo do interesse. Então, como resultado, a sociedade canibaliza-se na forma de exclusões e desigualdades. Não restam outras oportunidades além da cobiça, cada vez mais liberta de constrangimentos, dos «direitos adquiridos» alheios. Liberaliza-se a empregabilidade das vidas até à incerteza do dia seguinte, o humano relativiza-se face ao absoluto da eficiência, as pessoas perdem o direito à indisponibilidade. O medo antecipa reações prejudiciais ao interesse próprio, amplificando, com intensidade, o canibalismo social. O interesse fecha-se sobre si mesmo, em modo de reação exacerbada, mas sem outro ponto de vista além do seu parti-cularismo. Falta-lhe a perspetiva de uma vontade constituída, ponto de vista genuíno; falta-lhe ser janela com vista que dê sentido a uma racionalidade cingida à sua feição instrumental. É justamente a ausência de uma vontade que nos condena a instrumentos uns dos outros com o pretexto da maior eficiência do sistema. Mas, claramente, não há equivalência nenhuma entre este sistema eficiente e uma sociedade justa ou, pelo menos, minimamente decente.
Se o interesse mobiliza cada indivíduo, cada família, cada comunidade a partir da sua sobrevivência particular, a vontade, que nos mobilizaria a partir de um projeto, seria sinal de vida com sentido, vida imaginativa. A subtração da vontade é a subtração do sentido e da imaginação ao interesse e, com elas, do lugar próprio da sua constituição — a esfera pública. Em contrapartida, subtraídos de vontade, não surpreenderia que a frieza do cálculo dos meios concluísse, racionalmente, que o preferível ao interesse seria deixarmos de existir. Instala-se então uma moralidadezinha da existência, da pouca existência, ou ainda, da existência já em dívida antes de tudo o mais. É uma história antiga, demasiado antiga, de dívidas e culpas, a que já Nietzsche se opunha, quando, na sua Genealogia da Moral (1887), denunciava que, na língua alemã, a raiz do sentimento de culpa (Schuld) residia na ideia bem materialista de dívida (Schuldern). Com alguma razão podemos dizer que esta moralidade que retorna repudia o pós-moderno dando, repugnada, um salto imenso para trás, sobre a própria modernidade, forçando-nos a um regime de existência pré-moderno, anterior e avesso aos valores da emancipação e da autodeterminação. A heteronomia que, dantes, na ocasião certa, era a vontade de Deus repete-se hoje no simulacro das leis do mercado e da teoria económica. É uma heteronomia sem metafísica. Neste quadro necessitarista e heterónomo, a vontade de eficiência é a única vontade moralmente permissível. Já não nos governamos uns aos outros, mas somos dirigidos por razões que não nos pertencem.
3.
O que é válido para pessoas é igualmente válido para comunidades inteiras e países. A vítima mais evidente da ausência de projeto e da subtração do humano é hoje uma União Europeia, enrodilhada num atavismo que pode bem conduzir à sua desagregação. Outrora um projeto europeu, montado sobre a experiência traumática do pós-guerra, mas também, cada vez mais, com o passar das décadas, uma forma de oposição à ameaça do socialismo de Estado num quadro de Guerra Fria que opunha a Comunidade Económica Europeia, e a Nato como seu suporte militar, ao conjunto de países aliados no Pacto de Varsóvia, sob a hegemonia da antiga URSS, parte decisiva do móbil integrador esgotou-se com a reunificação alemã, o desmembramento da URSS e a reconfiguração, nos anos subsequentes, do poder económico no centro da Europa. Uma vez reorganizada em torno de um dos seus centros historicamente marcantes, distribuído ao longo das margens do Reno, a Europa não precisou mais de alimentar o projecto de uma União Europeia, podendo, pelo contrário, retomar velhas dicotomias entre um centro modelar e uma periferia negligente, menor em competência e em direito à dignidade. Os infelizes exemplos atuais de Portugal, Itália, Grécia e Espanha, outrora países da coesão, mas agora desafectadamente rotulados com o acrónimo «PIGS», veem-se destratados em termos essencialmente idênticos aos termos com que eram representados há 150 anos países periféricos, economias pobres, com carência de investimento estrangeiro, poderes públicos confusos, idolatria estrangeira e automenorização doméstica, com a fome e a guerra a adivinhar-se no que vem a seguir. Eis o quadro que se repete.
Guardemos por uns instantes a subtração da vontade e a democracia dos meios, e perguntemos, caso existisse, onde encontraríamos a farsa que nos antecipasse a tragédia que a repetição da História nos poderá reservar? Numa novela de Dostoievski, de 1864, intitulada O Crocodilo, relato do incrível incidente de um cidadão inteiramente engolido por um crocodilo. Esse enorme animal, vale a pena contar, exibido num pavilhão de São Petersburgo, era anunciado como único em toda a Rússia; e a sequência inusitada dos factos que se sucederam ao espantoso incidente só reforçou esta sua rara e valiosa condição. O infeliz engolido, Ivan Matveitch (bem a propósito, um funcionário público), escorregando pela imensa goela do bicho dos pés à cabeça, sobreviveu ao trago, aninhando-se sem excessivo desconforto nas entranhas reptilíneas.
Naturalmente, contrariar desta maneira tão aberta a natureza das coisas haveria de chamar a atenção de alguma autoridade civil. Configurava-se um daqueles incidentes que a diplomacia avisadamente não descuraria, seja pelos direitos de cada parte, afinal foi o homem que se enfiou bocarra adentro de uma propriedade que não era a sua, com riscos evidentes para a integridade desta, seja pelo lamentável sinal assim dado à atenta perceção dos grandes investidores dessa Europa, pois tudo tinha de acontecer logo com um crocodilo trazido das áfricas por um homem de negócios alemão, que via assim confirmadas as suspeitas de que nestas paisagens periféricas não se pode alimentar esperanças de levar com tranquilidade uma qualquer atividade económica. As circunstâncias pediam que se viesse a proteger oficialmente e com denodado empenho o investimento estrangeiro. Parecerá exagero? O singular nesta sátira de Dostoievski é que não, nada disto é exagero, à parte ser uma sátira. Senão veja-se como a matéria evolui rapidamente para altas considerações de economia política, como por exemplo estas, pela voz de um «capitalista, grande homem de negócios»:
E, como não temos aqui capital, temos de atrair o do estrangeiro. Antes de mais, temos de criar infraestruturaspara as empresas estrangeiras, para que estas comprem terras na Rússia, tal como acontece agora no estrangeiro. [...] Quando todas as terras estiverem na mão das empresas estrangeiras, elas podem definir a renda que entenderem. E assim o camponês irá trabalhar três vezes mais para ganhar o seu pão, podendo ser expulso quando se quiser. Assim, ele vai sentir essa pressão, ser submisso e aplicado e vai trabalhar três vezes mais pelos mesmos ordenados. (Dostoievski, 1864/2011: 38-9)
Ei-la: a história repetida ou antecipada, como se queira; ei-los: o investimento estrangeiro em falta, o objetivo a perseguir da produtividade e, claro, o meio mais óbvio para o alcançar — desvalorizar os custos unitários do trabalho, como agora se diz. Eis a História a repetir-se, por histórias e ficções, farsas e tragédias, fazendo de conta ou fazendo contas à vida; eis como até o mais singular e extraordinário incidente repete a nossa condição porvir.
Mas Dostoievski não se detém aqui e conduz o debate sobre os destinos do nosso singular funcionário público à pergunta política que antecipa a sensível problemática dos nossos dias de crise.
Aqui estamos nós, ansiosos por trazer o capital estrangeiro para o país e, apenas isto em conta: no momento em que o capital de um estrangeiro, que foi atraído para Petersburgo, se duplicou através do Ivan Matveitch, em vez de estarmos a proteger o capitalista estrangeiro propomo-nos a abrir a barriga do seu capital original, o crocodilo. Acha consistente? (Dostoievski. 1864/2011: 40)
.
Nada se perguntaria se não se concebessem duas respostas possíveis à pergunta. E a resposta para uma política da humanidade pode ser tão inconsistente como é artificioso o sfumato com que o renascentista nos pintava os rostos. Ou não fosse o rigor do raio X, que tanto fascinara o Hans Castorp de A Montanha Mágica, absolutamente incapaz de ser fotografia íntima da sua Madame Chauchat. Uma política da inconsistência é a inevidência íntima de que se faz a humanidade.
A verdade é que, porque permaneceremos aqui, sobreviventes ou órfãos, e em número cada vez maior, e porque, apesar de tudo, o pós-humano que, segundo alguns, nos sucederia persiste demasiado humano, a História só tem um caminho, que é continuar sem caminho pré-definido. E, pelo menos enquanto merecer a pena contá-la, há que perguntar como queremos que a História continue. Nesta fase da História, a pergunta formula-se assim: ou a queremos como história de uma autossubtração «consistente» do humano ao humano, a impor-se uma dívida para com a sua existência, autoculpabilizada, ressentida, sobrevivente. Ou então, queremo-la, como quer defender este livro, contra a tendência amarga destes tempos árduos que vivemos, contraposição de uma vontade de autodeterminação, de projeto emancipador, que arranca do tempo presente, assumindo escolhas e a sua responsabilidade, no exercício partilhado da liberdade. Primeiras vontades, nem que fossem as últimas, é o compromisso de uma liberdade política não abdicada, no poder realizador das novas escolhas. Liberdade como vontade e não como mero interesse.
O autor
André Barata (n. 1972) doutorou-se em Filosofia Contemporânea. É professor universitário na Universidade da Beira Interior e investigador do Instituto de Filosofia Prática. Os seus interesses académicos circulam pela teoria política, pensamento existencial e psicologia. Tem publicado livros de ensaio, como “Metáforas da Consciência” (Campo das Letras, 2000), sobre o pensamento de Jean-Paul Sartre, e “Mente e Consciência” (Phainomenon, 2009), conjunto de ensaios sobre filosofia da mente e fenomenologia. Editou “Representações da Portugalidade”(Caminho, 2011), obra coletiva que inquire criticamente os discursos identitários sobre Portugal.
André Barata
In Primeiras vontades, ed. Documenta
09.10.12

Primeiras vontades
Da liberdade política
para tempos árduos
Autor
André Barata
Editora
Documenta
Ano
2012
Páginas
208
Preço
15,09 €
ISBN
978-989-8618-06-1