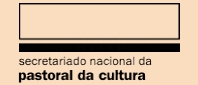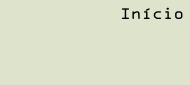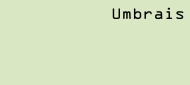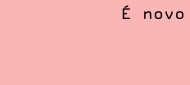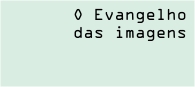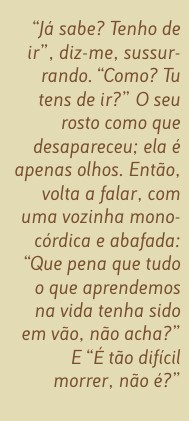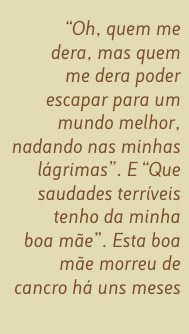Leitura
Etty Hillesum: Cartas 1941-1943
Westerbork, terça-feira, 24 de Agosto de 1943.
Depois desta noite, houve um momento em que senti seriamente que, de futuro, seria pecado voltar alguma vez a rir. Mas lembrei-me então de que, não obstante, alguns haviam partido a rir, embora não muitos, apenas alguns, desta vez. E talvez haja também quem ria de vez em quando na Polónia, embora não venham a ser muitos deste transporte, creio eu.
Quando penso nos rostos daquele pelotão de acompanhamento de guardas de uniforme verde armados - meu Deus, aqueles rostos! Olhei-os um a um, escondida por trás de uma janela, e nunca na minha vida houve algo que me deixasse tão assustada. Pus em causa as palavras que constituem o leitmotiv da minha vida: E Deus criou o Homem à Sua imagem. Esta passagem viveu comigo uma manhã difícil.
Disse-vos já por diversas vezes que não existem palavras ou imagens adequadas para descrever noites como esta. Ainda assim, tenho de tentar registar alguma coisa. Aqui, temos sempre a sensação de sermos os ouvidos e os olhos de um pedaço de História judaica, havendo também a necessidade de, por vezes, sermos uma pequena voz. Temos de manter-nos ao corrente de tudo o que acontece nos quatro cantos deste mundo, cada um deve dar o seu contributo para o grande mosaico estar totalmente preenchido no fim da guerra.
Ao passar de manhãzinha pelo barracão das punições, após uma noite no barracão-hospital, senti, por um momento, um alívio. Os prisioneiros, sobretudo homens, de malas e bagagens, estavam cercados pelo arame farpado; muitos tinham ar expedito e duro. Um velho conhecido - não o reconheci logo por ter a cabeça rapada, o que, por vezes, modifica por completo as pessoas - chamou-me e disse, sorrindo: «Se eles não me conseguirem matar à paulada, eu volto».
Mas aqueles bebés, aqueles gritinhos penetrantes dos bebés que são retirados das suas caminhas, a meio da noite, para serem levados para um país distante. Tenho de escrever tudo de forma desorganizada, rapidamente, porque se deixar para mais tarde, já não conseguirei fazê-lo, não acreditarei que isto aconteceu realmente; já é como uma visão que se afasta, flutuando, cada vez mais de mim. Os bebés foram, sem dúvida, o pior. E depois, houve ainda aquela menina paralisada que já não quis levar um prato consigo e achava tão difícil morrer. E o rapaz assustado: julgava estar seguro e foi esse o seu erro; inesperadamente, também tinha de partir, teve um ataque de loucura e fugiu. Os seus companheiros judeus foram obrigados a ir atrás dele. Se não o encontrassem, dezenas de outros judeus teriam de partir no seu lugar. Não tardaram a cercá-lo, foi encontrado numa tenda e, porém…porém1, os outros tiveram de partir para, de forma medonha, darem o exemplo, como se costuma dizer. E assim, o rapaz arrastou consigo vários bons amigos. Com o seu momento de loucura, causou cinquenta vítimas. Ou melhor, não foi ele o culpado, mas sim o nosso Comandante, aquele de quem tantas vezes dizem ser um cavalheiro. Conseguirá o rapaz viver em paz consigo mesmo, quando se aperceber realmente daquilo que provocou, e como irão reagir todos os outros judeus no comboio em relação a ele? O rapaz passará por um muito mau bocado. Talvez a situação não se tivesse agravado tanto se nessa noite não tivesse havido tanta actividade aérea2 sobre as nossas cabeças; o Comandante também deve ter ficado afectado com isso. “Bolas, que estes voam bem!”, ouvi um homem dizer para as estrelas, a meio da noite. As pessoas ainda tinham a esperança ingénua de que o transporte fosse cancelado. Muitas conseguiram assistir daqui ao bombardeamento de uma cidade vizinha, Emden, talvez. E porque não poderiam os carris ser também atingidos e o comboio impedido de partir? Nunca sucedeu nada do género, mas as pessoas continuam a acreditar que algo assim acontecerá, a cada novo transporte e com uma esperança obstinada…
Na noite anterior ao sucedido, caminhei pelo campo. As pessoas estavam agrupadas entre as barracas, sob um céu plúmbeo. “Veja, é assim que as pessoas agem após uma catástrofe, juntando-se em esquinas das ruas a discutir o sucedido”, disse-me o meu interlocutor. “Mas é precisamente isso o que é incompreensível”, exclamei, “desta vez, estão a fazê-lo antes da catástrofe!” Sempre que o infortúnio bate à porta, as pessoas tendem naturalmente a estender a mão para ajudar e a salvar o que pode ser salvo. Mas, esta noite, eu irei vestir bebés e acalmar mães - e chamar a isso «ajudar», quase me podia amaldiçoar por fazê-lo. Sabemos perfeitamente que vamos deixar os nossos doentes e desprotegidos à mercê da fome, do calor, do frio, da falta de protecção e da destruição e, ainda assim, nós próprios os vestimos e acompanhamos até aos monstruosos vagões despidos - e aos que não podem andar, carregamo-los sobre macas. Mas que se passa, afinal, que mistérios são estes, em que espécie de mecanismo fatal nos encontramos enredados? Não podemos, simplesmente, fugir a esta questão com a desculpa de sermos todos cobardes. Nem somos assim tão maus. Estamos perante questões muito mais profundas…
Nessa tarde, fiz, uma vez mais, a ronda pelo meu barracão-hospital, indo de cama em cama. Quais as que ficariam vazias no dia seguinte? As listas de transporte nunca são reveladas senão no último momento; ainda assim, alguns sabem antecipadamente se terão de partir. Uma menina chama-me. Está sentada na cama, muito direita, de olhos arregalados. A menina tem pulsos finos e um rostinho estreito e transparente. Está parcialmente paralisada, começava justamente a reaprender a andar, apoiando-se a duas enfermeiras, passo a passo. “Já sabe? Tenho de ir”, diz-me, sussurrando. “Como? Tu tens de ir?” Olhamos por momentos uma para a outra, incapazes de falar. O seu rosto como que desapareceu; ela é apenas olhos. Então, volta a falar, com uma vozinha monocórdica e abafada: “Que pena que tudo o que aprendemos na vida tenha sido em vão, não acha?” E “É tão difícil morrer, não é?” Subitamente, a expressão rígida forçada da sua face esbate-se com as lágrimas e os soluços e ela exclama: “Oh, e o pior de tudo é ter de sair da Holanda!” E “Oh, porque não pude morrer antes…” Mais tarde, durante a noite, vejo-a novamente, pela última vez.
Na casinha das lavagens está uma mulher pequenina, que segura debaixo do braço um alguidar com roupa a pingar. Agarra-me. Tem um ar um pouco desgrenhado. Lança-me um chorrilho de palavras: “Não pode ser, como é possível? Tenho de partir e nem sequer vou conseguir secar a roupa para amanhã. E o meu filho está doente, com febre, não pode fazer com que eu não tenha de ir? E não tenho sequer roupinha que chegue para ele, acabaram de me enviar o fatinho pequeno, em vez do grande, oh, ainda vou dar em doida. E só nos deixam levar um cobertor, vamos morrer de frio, ou julga que não? Tenho cá um primo que chegou ao mesmo tempo que eu, mas ele não tem de ir, por ter os documentos certos, não acha que eles também dão para mim? Diga que não tenho de ir, acha que vão deixar os filhos com as mães? Volte cá esta noite, venha ajudar-me nessa altura; o que acha, os papéis do meu primo…»
Se eu disser que nessa noite estive no Inferno, o que acham que quererei dizer? Afirmei-o uma vez para mim mesma em voz alta, a meio da noite, constatando com certa sobriedade: “Pois, agora estou no Inferno.”
Não conseguimos mesmo saber quem vai e quem não vai, estão quase todos a pé, os doentes ajudam-se entre si a vestirem-se. Muitos não têm nenhuma peça de roupa, pessoas cuja bagagem se perdeu ou não chegou ainda. Senhoras do «Serviço de Assistência» deambulam por aí, distribuindo vestuário, não importando se serve ou não, desde que se esteja tapado com alguma coisa. Algumas senhoras idosas estão trajadas de modo patético. Preparam-se biberões de leite para dar aos bebés, cujos gritos de lamento passam por todas as frestas do barracão. Uma jovem mãe diz-me como que a pedir desculpa: “O meu bebé não costuma chorar; é quase como se soubesse o que vai acontecer”. Tira o menino, um lindo bebé de oito meses, de um berço primitivo e sorri para ele. “Se não te portares bem, não podes viajar com a mamã!” Fala-me de alguns conhecidos. “Quando os ‘homens de verde’ foram buscá-los a Amesterdão, os filhos choraram terrivelmente. Então, o pai disse-lhes: “Se não se portarem bem, não vão poder ir no carro verde, este senhor de verde não vos leva.” E isso ajudou-os miúdos acalmaram-se”. Pisca-me o olho corajosamente, uma mulher franzina, morena, de rosto vivo, cor de azeitona. Tem vestidas umas calças compridas cinzentas e uma camisola de lã verde. “Não sou assim tão forte”, diz, “apesar de estar a sorrir”.
A mulher da roupa molhada está à beira da histeria. “Não pode esconder o meu filho? Por favor, esconda-o, está com febre alta, como posso levá-lo comigo?” Aponta para um pequenino de caracóis louros e rostinho escarlate, a arder, que se debate numa caminha de madeira crua. A enfermeira quer que a mãe vista mais uma camisola de lã por cima do vestido. Ela recusa. “Não vou levar nada, de que me serve?… o meu filho”. Soluça, e prossegue: “Tiram-nos os filhos doentes e não voltamos a vê-los». Uma mulher aproxima-se dela, uma mulher do povo pesada, de rosto bondoso e de traços rudes, puxa a mãe desesperada, fazendo-a sentar-se consigo à beira de um dos catres de ferro e fala com ela com um sotaque popular quase melodioso. “Tu também não passas de uma
judia, não é? Por isso, também vais ter de ir, não é assim?…”
Umas camas adiante deparo, subitamente, com o rosto macilento e sardento de uma colega. Está de cócoras junto à cama de uma mulher moribunda que engoliu veneno e que é sua mãe. “Meu Deus, o que vem a ser isto, o que tenciona fazer?”, deixo escapar. É aquela mulherzinha do povo querida de Roterdão. Está grávida de nove meses. Duas enfermeiras tentam vesti-la. Encosta o corpo enorme à caminha do filho. Gotas de suor escorrem-lhe pela face. Olha para o vazio, para onde não posso seguir-lhe o olhar, e diz numa voz sem entoação, gasta: “Há dois meses, ofereci-me para ir com o meu marido para a Polónia. Nessa altura, não me deixaram ir, por ter sempre partos difíceis. E agora, tenho mesmo de partir… só porque alguém tentou fugir esta noite…” O choro dos bebés torna-se mais forte, enchendo todos os cantos e recantos do barracão banhado por uma luz fantasmagórica. Quase não dá para aguentar. Ocorre-me um nome: Herodes.
Na maca, a caminho do comboio, começaram as dores de parto, e então permitiram que a mulher fosse levada para o hospital, em vez de para o comboio de mercadorias - o que, esta noite, parece um raro acto de humanismo…
Passo pela cama da menina paralisada, que já está parcialmente vestida, graças à ajuda de terceiros. Nunca vi uns olhos tão grandes num rosto tão pequeno. “Não consigo conformar-me”, sussurra-me. Alguns passos adiante, está a minha russinha corcunda, de quem já vos falei. Como que presa numa teia de tristeza. A menina paralisada é sua amiga. Mais tarde, confidencia-me, lamentando-se: “Ela nem sequer tinha um prato; quis dar-lhe o meu, mas ela não o aceitou. Disse: ‘De qualquer forma, morrerei dentro de dez dias e, então, aqueles alemães horríveis ficam com ele’”. Está diante de mim, com um quimono de seda verde em volta da sua pequena figura deformada. Tem olhos de criança, puros e muito sábios. Primeiro, fica a observar-me silenciosamente durante muito tempo, com olhar perscrutador, e, por fim, diz, irrompendo com emoção: “Oh, quem me dera, mas quem me dera poder escapar para um mundo melhor, nadando nas minhas lágrimas”. E “Que saudades terríveis tenho da minha boa mãe”. (Esta boa mãe morreu de cancro há uns meses, neste campo, na casinha das lavagens perto das retretes; foi ali que encontrou um espaço onde pôde ficar sozinha por momentos, para poder morrer.) A Liubutsca pergunta-me, com o seu estranho sotaque e a voz de uma criança que pede perdão, “Deus Nosso Senhor compreenderá, certamente, as minhas dúvidas num mundo como este, não acha?” Depois, afasta-se de mim, num gesto quase encantador de tristeza infinita, e durante toda a noite vejo uma figura disforme de seda verde movendo-se por entre as camas, prestando pequenas ajudas a todos os que estão prestes a partir. Ela ainda não tem de ir, pelo menos, não desta vez…
Estou a preparar sumo de tomate para encher biberões para os bebés. Ao pé de mim está uma jovem mulher; parece empreendedora, pronta para a viagem, e arranjou-se com esmero. Soa quase como um grito de libertação, quando exclama, abrindo os braços num gesto largo: “Vou iniciar a grande viagem; talvez encontre o meu marido”. Uma mulher que se encontra diante dela interrompe o seu discurso, dizendo amargamente: “Eu também vou, mas não o aceito”. Observo por instantes a jovem mulher ao pé de mim. Está cá só há alguns dias, vinda do barracão das punições. Emana força e independência e torce a boca pequena num trejeito de desafio. Desde o início da noite que está a postos para a partida, de calças compridas e uma camisola e casaco de lã. No chão, junto a ela, encontra-se uma mochila pesada e um cobertor enrolado. Tenta engolir algumas sanduíches. Estão bolorentas. «Provavelmente, hei-de comer pão bolorento mais vezes», diz, rindo. “Na prisão, não comi nada durante dias”. Um pouco da sua história nas suas próprias palavras: “Já estava no fim do tempo quando me atiraram para a prisão. E como escarneceram e me desprezaram! Tive a infelicidade de dizer que não podia estar de pé, por isso, fizeram-me estar assim horas a fio, mas aguentei sem um queixume”. Lança um olhar desafiador. “O meu marido também lá esteve. Ai, como o trataram mal, mas ele foi tão forte! No mês passado, mandaram-no embora. Tinha tido o meu bebé há três dias e não pude ir com ele. Mas ele mostrou-se tão forte!” Quase irradia com uma espécie de orgulho carinhoso. Prossegue: “O bebé morreu aqui. Talvez volte a encontrar o meu marido”. Ri-se em tom de desafio. “Podem arrastar-nos pela lama, mas acabaremos por ultrapassar todas as adversidades!” Olha para os bebés que choram em redor e diz: “Não vou ter mãos a medir, no comboio; ainda tenho leite.”
“O quê? A senhora também?”, pergunto, de repente, estupefacta. A figura de uma mulher alta surge por entre os berços virados dos bebés agitados e chorosos, com as mãos pelo ar em busca de apoio. Usa um vestido longo, preto, antiquado. Possui um semblante nobre e usa o cabelo branco ondulado apanhado em cima. O marido faleceu aqui há algumas semanas. Já passa em muito dos 80 anos, mas aparenta ter menos de 60. Sempre a admirei pelo modo aristocrático como se reclinava no seu catre miserável. Responde numa voz roufenha, “Sim. Não me deixaram partilhar o túmulo do meu marido”.
Oh, e ela também! É a enérgica mulher do gueto que costumava ficar na cama, com fome, por nunca receber alimentos. E tinha cá sete filhos. Corre em passinhos miúdos de um lado para o outro com as suas pernas curtas, muito decidida e atarefada. “Pois, veja bem, tenho sete filhos e eles precisam de uma mãe corajosa que os acompanhe, isso lhe garanto eu!” Com gestos ágeis, enche o saco de juta com os seus pertences. “Não vou deixar cá nada, o meu marido partiu há um ano e os meus dois mais velhos também já foram”. E acrescenta, com ar radiante: “Os meus filhos são p’ra mim uns autênticos tesouros!” Ela corre, apressa-se, emala, tem uma palavra de coragem para todos os que passam por ela. Uma mulher do gueto, baixa, feia, de cabelo negro oleoso, abdómen pesado e pernas curtas. Tem um vestido pobre e escuro, de meia manga, que julgo que costumava usar quando lavava a roupa na tina na Jodenbreestraat. E agora parte como mesmo vestido para a Polónia, numa viagem de três dias, com sete filhos. “Pois, veja bem, vou partir com sete crianças e elas precisam de ter uma mãe corajosa que os acompanhe, isso lhe garanto eu!”
Ainda se nota que, outrora, aquela jovem mulher estava acostumada ao luxo e que era muito bonita. Chegou recentemente ao campo. Esteve na clandestinidade por causa do bebé. E agora está aqui, por ter sido denunciada, como tantos outros clandestinos. O marido encontra-se no barracão das punições. Dá pena olhar para ela. O cabelo pintado de louro deixa entrever, aqui e ali, raízes negras com um brilho esverdeado. Vestiu muitos conjuntos de roupa interior e outras peças de vestuário umas por cima das outras, pois não se pode carregar tudo, sobretudo se se tiver um filho pequeno para levar também ao colo. Agora tem um aspecto disforme e ridículo. O rosto está manchado. Observa todos com um olhar velado e inquiridor, como uma cria indefesa e abandonada. Que aspecto terá esta jovem mulher, que já está totalmente desorientada, quando for despejada após três dias naquele vagão superlotado, apertada entre homens, mulheres, crianças e bebés, sacos e malas e apenas com um barril ao centro como peça de mobiliário? Provavelmente, eles irão parar a outros campos transitórios, de onde serão novamente transportados. Estamos a ser perseguidos de morte por toda a Europa…
Caminho um pouco perdida por entre outros barracões. Passo por cenas que surgem com muitos e nítidos pormenores diante dos meus olhos e que, ao mesmo tempo, parecem visões antiquíssimas e já indistintas. Vejo um velhote moribundo a ser carregado, a recitar o Shemá para si mesmo. Recitar o Shemá é dizer uma prece pelo moribundo. Consiste principalmente na invocação constante do nome de Deus e é feita quando o próprio moribundo ainda está em condições de participar na oração. Vejo um homem idoso a ser carregado num andor para o comboio, dizendo o Shemá para si mesmo… vejo um pai, prestes a partir, a abençoar a mulher e o filho e a ser, por sua vez, abençoado por um rabino de idade, de barba imaculadamente branca e perfil de profeta inflamado. Vejo…oh, não consigo descrevê-lo…
Entretanto, são 6:00; o comboio parte às 11 e estão a começar a enchê-lo de pessoas e mochilas. Os caminhos que a ele levam foram vedados por homens do Ordnungsdienst. Todos os que não estão envolvidos no transporte devem deixar o terreno livre, devendo permanecer nos barracões. Escapo-me para dentro de um que fica perto do comboio. “Daqui sempre se teve uma vista magnífica dos transportes que chegam e partem”, ouço dizer alguém, com cinismo. Já desde ontem que o campo está dividido em duas partes pelo comboio: uma fila sombria de vagões de mercadorias despidos, vazios, e um vagão de passageiros à frente e outro atrás para o pelotão de escolta. Alguns têm colchões de papel no chão, para os doentes. Vê-se cada vez mais movimento na estrada alcatroada que acompanha os carris. Homens da Fliegende Kolonne, de fatos-macacos castanhos, transportam bagagem em carrinhos de mão. Entre eles descubro, por exemplo, alguns bobos da corte do Comandante: o comediante Max Ehrlich e o compositor de música popular Willy Rosen, que parece a personificação da morte. Em tempos, figurou irrevogavelmente na lista de transporte; porém, noites antes, ainda cantou até à exaustão para um público entusiasta, entre o qual se encontrava o Comandante e a sua comitiva. Interpretou, entre outras, Ich kann es nicht verstehen, dass die Rosen blühen, e outras canções em voga. O Comandante, grande apreciador de arte, achou a actuação esplêndida e o cantor recebeu uma Sperre; teve até direito a uma casinha, onde vive agora por trás de cortinas aos quadrados vermelhos com a sua mulher de cabelo pintado de louro que passa os dias a trabalhar com a calandra na lavandaria escaldante. É o próprio Rosen que aqui anda, de fato-macaco castanho-amarelado, empurrando um carrinho de mão baixo no qual é obrigado a transportar a bagagem dos seus companheiros judeus; parece a personificação da morte. E ali está outro bobo da corte: Erich Ziegler, o pianista favorito do Comandante. Reza a lenda que é tão virtuoso que consegue tocar a Nona Sinfonia de Beethoven em versão jazz, o que tem seguramente que se lhe diga…
De repente, a estrada asfaltada fica repleta de homens de uniforme verde; não entendo de onde saíram tão depressa. Mochilas e armas sobre os ombros. Estudo-lhes as figuras e os rostos, tento olhar para eles sem preconceito.
Em transportes anteriores, ainda se viam indivíduos inocentes e bondosos que caminhavam fumando cachimbo com olhar espantado e falavam no seu dialecto incompreensível, e com os quais ninguém se importava de ir viajar. Desta vez, sinto um arrepio de terror da cabeça aos pés. Rostos rudes e escarninhos nos quais se tenta em vão vislumbrar o traço mais ténue de humanidade. Em que frentes foram educados estes indivíduos? Em que campos de castigos terão treinado? Afinal, este é um transporte punitivo, não é? Algumas jovens mulheres já se encontram dentro dos vagões de mercadorias, com os seus bebés ao colo, as pernas pendendo do lado de fora - desejam aproveitar todo o ar fresco que puderem. Os doentes são levados para ali em macas. É um transporte punitivo. Quase dou por mim a rir: a disparidade entre guardas e guardados é demasiado absurda. O meu companheiro1, que observa pela janela, a meu lado, estremece. Há meses, trouxeram-no de Amersfoort, desfeito. “Sim, aqueles tipos são assim”, diz, “é o ar deles”. Algumas crianças espreitam de narizes achatados contra o vidro. Ouço a sua conversa seríssima. “Porque é que aqueles homens porcos e maus se vestem de verde, porque é que não usam preto? O preto também é uma cor má, não é?”, “Olha, vai ali um doente!” Um tufo de cabelo grisalho ao cimo de um cobertor revolvido, sobre uma maca. “Olha, ali vai outro”. E, apontando para os «verdes»: “Vejam só, agora desataram a rir!”
Cada vez mais pessoas enchem os espaços vazios dos vagões. Uma figura alta e solitária surge pelo caminho alcatroado, com uma pasta debaixo do braço. É o chefe do chamado Antragstelle. Tenta até ao último momento retirar pessoas das garras do Comandante. O regateio dura até à hora da partida. É possível tirar pessoas que já estão no comboio. O homem da pasta tem a fronte de um jovem rato de biblioteca e ombros cansados, muito cansados. Uma velhinha curvada de chapéu preto antiquado sobre o cabelo grisalho eriçado barra-lhe a passagem, gesticulando e agitando alguns papéis diante do nariz deste. Ele escuta-a por momentos, depois abana a cabeça e afasta-se de seguida, de ombros ainda um pouco mais curvados do que o habitual. Desta vez, não será possível tirar muitos do comboio na hora H. O Comandante está arreliado. Um jovem judeu teve a ousadia de fugir; não pode chamar-se uma real tentativa de fuga, ele escapuliu-se do hospital num momento de confusão, um casaco fino por cima do pijama azul, e, de modo desajeitado e quase infantil, escondeu-se numa tenda, onde logo foi encontrado, após uma busca pelo campo inteiro. Mas, sendo-se judeu, não se pode permitir fugir nem ser-se tomado de loucura. A decisão do Comandante é implacável. Como represália, dezenas de outras pessoas estão a ser inesperadamente enviadas para o transporte, incluindo algumas que pensavam estar firmemente ancoradas aqui. Este sistema funciona, pura e simplesmente, à base de castigos colectivos. Os muitos aviões que esta noite passaram por cima das nossas cabeças não devem ter contribuído para melhorar a disposição do Comandante, embora ele não se pronuncie muito sobre esse assunto.
Os vagões já estão, digamos, cheios. É o que se julga. Meu Deus, é preciso fazer entrar ainda essa gente toda? Surge um novo grande grupo. Os miúdos continuam de nariz colado ao vidro; não lhes escapa nada. “Olhem ali, estão a sair uma data de pessoas; de certeza que dentro do comboio têm calor”. De súbito, um deles exclama: “O Comandante!”
Ele surge no início do caminho de asfalto, como uma estrela famosa fazendo a sua entrada durante um grand finale de uma peça de revista. Quase já se teceram lendas em redor desta figura. É senhor de muito charme e das melhores intenções relativamente aos nossos. Para Comandante de um campo de judeus, tem umas ideias estranhas. Recentemente, decidiu que precisávamos de uma dieta mais variada, e logo tivemos direito a ervilha-miúda em vez de couve. Também é, por assim dizer, o mentor da vida artística aqui e um fiel frequentador das noites de revista. Numa ocasião, veio assistir ao mesmo espectáculo três vezes seguidas e riu-se sempre das mesmas piadas gastas. [Sob os seus auspícios, formou-se um coro masculino que às suas ordens cantou Bei mir bist du schön. Teve um impacto arrebatador aqui na charneca, há que dizê-lo.
Por vezes, chega a convidar artistas a irem a sua casa e conversa e bebe com eles até altas horas. E, uma noite, não há muito tempo, acompanhou uma actriz3 até casa e, ao despedir-se, segurou-lhe na mão; imagine só, na mão! Também dizem que nutre uma adoração especial por crianças. Elas devem ser bem tratadas. No hospital, até recebem um tomate por dia. Não obstante, muitas morrem à mesma. Até agora, nenhum perito conseguiu descobrir o motivo. Poderia continuar a contar imensas histórias sobre o «nosso» Comandante. Talvez ele se veja como um soberano misericordioso perante os seus muitos e humildes súbditos. Sabe Deus como ele se vê. Uma voz por trás de mim diz: “Tivemos em tempos um Comandante que costumava correr com as pessoas para a Polónia ao pontapé. Este fá-lo com um sorriso”.
Ele percorre o caminho paralelo ao comboio a passo militar, um homem relativamente jovem que prosperou na sua carreira, se se pode chamá-lo assim. É dono e senhor da vida e morte dos judeus holandeses e alemães aqui nesta charneca na província de Drente. Provavelmente, há um ano, ele não fazia ideia da existência de tal lugar. Sinceramente, eu também não. Esta manhã, ele envia cinquenta judeus a mais no transporte porque um rapaz de pijama azul se escondeu numa tenda. Percorre o caminho ao lado do comboio, o cabelo grisalho cuidadosamente penteado surge na nuca, sob o boné verde-claro, achatado. Aquele cabelo grisalho, que contrasta de modo tão romântico com o seu rosto bastante jovem, arranca suspiros a muitas rapariguinhas tontas, por aqui - embora elas não se atrevam, claro está, a admiti-lo publicamente. Nesta manhã cruel, a sua face está quase da cor do aço. É uma face que ainda me custa muito a decifrar. Por vezes, parece-me uma estreita cicatriz na qual cresceram em conjunto repressão, falta de alegria e falsidade. Para mais, é daquelas pessoas cuja aparência oscila entre o barbeiro cuidado e o cliente habitual de um café boémio. Porém, a repressão e a rigidez forçada predominam. Caminha a passo militar junto dos vagões a abarrotar de pessoas. Inspecciona as suas tropas: doentes, bebés, mães jovens e homens de cabeças rapadas. Trazem mais alguns doentes em macas. Ele esboça um gesto de impaciência; estão a demorar demasiado. Atrás dele, segue o seu secretário judeu, trajando um elegante par de calças de montar beges e um blazer desportivo castanho. Tem a aparência aprumada, desportiva e, porém, inexpressiva de um bebedor de whisky inglês. De repente, junta-se-lhes um bonito cão de caça castanho, vindo a saltitar sabe-se lá de onde. O secretário de bege brinca com ele com gestos graciosos, é tal e qual como uma ilustração de uma revista de sociedade inglesa. O pelotão verde fica a olhar2 de olhos esbugalhados. Provavelmente pensa - embora essa não seja a palavra mais adequada – que os judeus daqui têm um aspecto bastante diferente daquele em que as imagens das suas revistas educativas os levaram a acreditar. Alguns dirigentes judeus do campo também caminham paralelamente ao comboio. “Também se dão ares de importantes”, murmura alguém por trás de mim. «A boulevard dos transportes» digo eu em voz alta. “Conseguirá alguma vez alguém descrever ao mundo exterior o que aconteceu aqui?”, pergunto ao meu companheiro. O mundo exterior provavelmente pensa que somos uma multidão cinzenta, uniforme e sofredora de judeus, nada sabendo das brechas, abismos e diversidades existentes entre os indivíduos e os grupos; talvez jamais venham a compreendê-los. O Oberdienstleiter juntou-se agora ao Comandante, que, de súbito, parece pequeno e insignificante. O primeiro é um judeu alemão bem constituído. Botas pretas, boné preto, gibão militar preto com estrela amarela. Tem uma boca cruel e um pescoço poderoso. Há um ano, ainda cavava no Serviço Externo. Em redor da sua meteórica ascensão desenrola-se um interessante pedaço da História da mentalidade da nossa época que as pessoas deveriam analisar mais tarde. O Comandante verde-claro e rígido, o secretário bege impassível e a hercúlea figura negra do Oberdienstleiter desfilam paralelamente aos vagões. Abrem caminho para deixá-los passar, mas não tiram os olhos deles.
Deus do céu, vão mesmo conseguir fechar todas as portas? Sim, vão. Fecham as portas, comprimindo a multidão de pessoas amontoadas e empurradas para trás. Pelas estreitas aberturas no topo, vêem-se cabeças e mãos que mais tarde acenarão para nós quando o comboio partir. O Comandante percorre novamente de bicicleta o caminho a todo o comprimento do comboio. Depois esboça um breve gesto como um monarca numa opereta e um pequeno ordenança apressa-se a ir buscar respeitosamente a bicicleta. O comboio solta um silvo cortante e um comboio com 1020 judeus deixa a Holanda. Desta vez, a quota não foi das mais exigentes: apenas um milhar de judeus, sendo os vinte reservas extra para a viagem, pois há sempre a eventualidade de alguns morrerem ou serem mortos por esmagamento durante o caminho, o que, desta vez, será mais do que certo, já que seguem tantos doentes, sem uma única enfermeira.
Os ajudantes junto do comboio vão desaparecendo gradualmente, vão procurar os seus lugares para dormir. Tantos rostos exaustos, pálidos e sofredores. Mais uma vez, parte do nosso campo foi amputada. Para a semana, será outra parte. É ao que temos vindo a assistir há já mais de um ano, semana após semana. Estamos aqui com alguns milhares que restaram. Há já cerca de cem mil holandeses da nossa raça a debater-se sob um céu desconhecido ou a apodrecer num solo desconhecido. Nada sabemos do seu destino. Talvez fiquemos a sabê-lo em breve, cada qual a seu tempo, pois será esse o fado que nos espera a todos, não duvido disso nem por um momento. Mas agora tenho de ir dormir um bocadinho. Estou um pouco cansada e tonta. Mais tarde, terei de ir à lavandaria procurar uma luva de banho que se perdeu. Mas primeiro, tenho de dormir um bocadinho e, de resto, estou firmemente decidida a voltar para vocês após algumas errâncias. Por agora, muitos beijos, meus queridos.
Etty Hillesum nasceu a 15 de janeiro de 1914, em Middelburg, Holanda, e morreu a 30 de novembro de 1943, aos 29 anos, no campo de concentração de Auschwitz, Polónia.
Etty Hillesum
In Cartas - 1941-1943, ed. Assírio & Alvim
28.05.09 | Atualizado em 30.11.13
DIário de Etty Hillesum
Etty Hillesum: o espaço interior do mundo
Etty, a rapariga que aprendeu a ajoelhar-se (João Bénard da Costa)
Etty, um comboio para Auschwitz